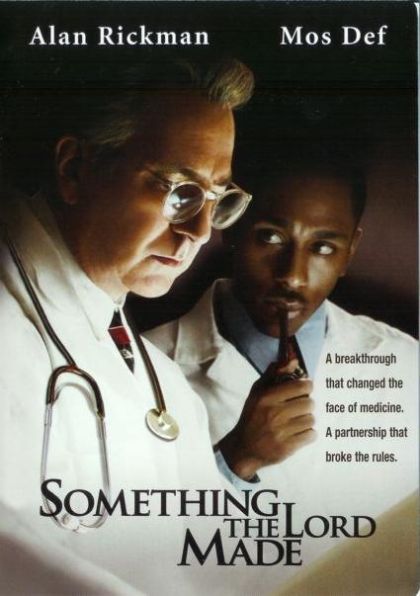A Canção de Bernadette(The Song Of Bernadette, 1943)
Para os que creem e os que não creemÉ bastante complicado abordar uma temática religiosa em uma obra cinematográfica. A religião é terreno fértil para polêmicas e radicalismos, não apenas por parte daqueles que creem, como também por aqueles que não acreditam (digo até por experiência própria, pois que já vi ateus bastante radicais e mesmo intolerantes). Exemplo já clássico e recente desta afirmativa é o longa-metragem
“ A Paixão de Cristo” (The Passion Of The Christ, 2004), a super-violenta visão de Mel Gibson acerca do martírio de Jesus Cristo, filme este que foi acusado de antisemitismo e muito criticado pelo excesso de sangue na tela. De qualquer forma, para Gibson, um católico fervoroso adepto de uma da vertentes mais radicais da Igreja, não foi difícil estabelecer um tom para a narrativa, já que ele realizou uma obra extremamente pessoal onde quis e teve o direito de extravasar toda a sua religiosidade, por mais que ela soe distorcida aos olhos da maioria. Já Martin Scorsese sofreu o pão que o diabo amassou devido à sua visão pouco ortodoxa da vida de Jesus em
“A Última Tentação de Cristo” (The Last Temptation Of Christ, 1988), obra que apresenta uma visão consideravelmente humana de um Salvador que se mostra o tempo inteiro suscetível aos desejos e falhas típicos dos homens. Contudo, para um cineasta que não deseje realizar um manifesto religioso ou questionar abertamente alguns dogmas, mas tão somente narrar um fato com significados místicos e sem cair em qualquer forma de proselitismo, encontrar o tom e forma corretos é um caminho deveras difícil.
Tal feito foi alcançado em boa parte com “A Canção de Bernadette” (The Song Of Bernadette) pelo diretor Henry King, cineasta de filmes como “Almas em Chamas” (Twelve O'Clock High, 1949) e o cultuado
“Suplício de Uma Saudade” (Love Is A Many Splendored Thing, 1955), neste último dirigindo a mesma Jennifer Jones que alçou ao estrelato com esse trabalho de 1943. King não possui a mesma estatura de outros nomes da Hollywood clássica, como John Huston, Howard Hawks ou o genial John Ford, mas era um bom diretor que, neste caso, acertou em cheio na adaptação da história da aparição da Virgem Maria em Lourdes, cidade da França que até hoje é destino de peregrinação de católicos do mundo inteiro devido aos eventos lá ocorridos. Para tanto, ele utilizou de um tom refinado, sem cair em uma indesejável solenidade que acabaria por afastar emocionalmente o espectador e, ademais, na maior parte do filme, sem apelar para excessos melodramáticos, tentação fácil diante de um mote tão propício.

Talvez King tenha atingido esse resultado por focar a abordagem não nos fatos inusitados que levaram à crença nos milagres de Lourdes, mas nos personagens que vivenciaram a história. E, nesta aspecto, fez-se essencial encontrar em Jennifer Jones a atriz ideal para desempenhar o papel da jovem e frágil Bernadette Soubirous, uma menina de origem bastante humilde e com vários problemas de saúde que limitam, inclusive, o seu desenvolvimento escolar. Por outro lado, é uma pessoa de alma pura, pobre em espírito na melhor acepção da expressão e que, provavelmente devido a isso, é supostamente escolhida para servir como o canal de comunicação entre a Virgem e os moradores de Lourdes. Pertinente ressaltar que Bernadette em nenhum momento se considera santa ou pretende sê-lo. Pelo contrário, ambiciona apenas ter uma vida comum e simples como as moças de sua idade. Só que, obviamente, se nem Cristo agradou a todos não será ela que irá agradar, e a jovem passar a ser alvo não apenas das naturais dúvidas a respeito da veracidade de suas visões, como também da inveja e maledicência alheias, pois que muitos a julgam como uma aproveitadora que quer aparecer às custas da credulidade da comunidade.
Ao redor da protagonista, outros personagens são muito bem construídos, como o promotor Vital Dutour (Vincent Price), um dos líderes aristocratas da região que a princípio se sentem incomodados com a afluência de fiéis à gruta de Massabielle (local das aparições), mas que depois tentam auferir vantagens financeiras dos acontecimentos. Dutour, no entanto, parece ir além nas suas tentativas de desmascarar Bernadette, revelando uma faceta ateia ou agnóstica que não consegue admitir como milagres os fatos fora da normalidade que se verificam na pequena cidade. Ele é contraposto pelo deão da aldeia, o padre Peyramale (Charles Bickford), o qual, depois de sentir a veracidade nas palavras e ações de Bernadette, torna-se seu protetor e defensor. É em um dos diálogos entre o padre e os incrédulos que surge uma frase que se tornaria famosa: “para os que creem, nenhuma explicação é necessária; para os que não creem, nenhuma explicação servirá” - certamente retirada do livro de Franz Werfel no qual se baseou o roteiro de George Seaton.

Falando em bons personagens, não se pode deixar de lembrar algumas curiosidades que rodeiam a produção. O papel de Bernadette rendeu o Oscar a Jennifer Jones, realizando aqui sua primeira protagonista no cinema. Antes ela havia feito apenas algumas participações em filmes de menor orçamento ainda com seu nome verdadeiro, Phylis Isley (o nome com o qual se tornou famosa foi criado por David O. Selznick, produtor com que se casaria alguns anos mais tarde). Ela disputou a personagem com centenas de outras concorrentes, mas Henry King adorou o viés contido, doce e humilde que atribuiu a Bernadette. Todavia, se Jennifer aparece incontestável como protagonista, o mesmo não se deu com a seleção da atriz para encarnar a Virgem Maria. A escolha recaiu em Linda Darnell, atriz de péssima reputação (apesar de ironicamente costumar interpretar mulheres ingênuas nas telas) e que quase fazia o autor Werfel pedir a exclusão de seu nome nos créditos da película. Mas a verdade é que sua participação se limita quase que a pontas, pois que a Senhora (tratamento usado por Bernadette para a aparição) tem pouco tempo de cena.
Dono de uma fotografia excelente, que rendeu ainda o prêmio da Academia a Arthur Miller, além de uma bela trilha sonora do mestre Alfred Newman (que renderia a primeira versão em disco de uma trilha de filme a ser comercializada), “The Song Of Bernadette” apenas titubeia na sua conclusão, onde King acaba cedendo a alguns arroubos melodramáticos, além de parecer querer a chancela da Igreja ao incluir, sem mais nem menos, uma imagem da Basílica de São Pedro na última cena. Entretanto, são pequenos defeitos em uma obra ao mesmo tempo sóbria e comovente, certamente capaz até de sensibilizar mesmo os mais céticos. Afinal, para além da crença, Bernadette Soubirous foi um ser humano notável, um exemplo de humildade e plena convicção naquilo que acreditava. É de pessoas de coração puro como o dela que o mundo está carecendo, e nisso qualquer um há de concordar, seja ou não cristão, seja um fundamentalista como Mel Gibson ou um questionador como Scorsese, acreditando ou não em Deus.
Cotação:

Nota: 9,0