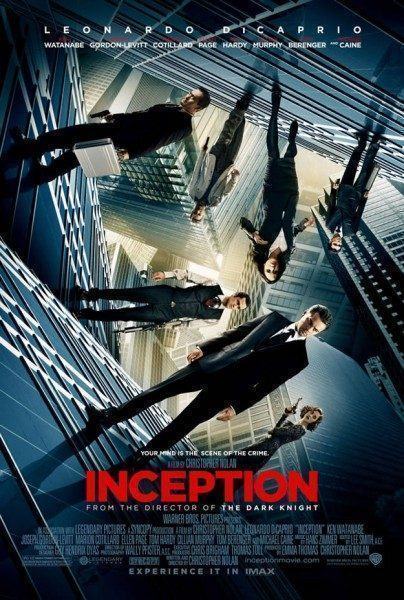Kung-fu muito kid
Quem foi garoto (a) nos anos 80 certamente tem em “Karatê Kid – A Hora da Verdade” uma de suas mais caras memórias cinematográficas. Eu mesmo perdi as contas de quantas vezes assisti ao longa e de quantas tentativas realizei procurando imitar o famoso golpe da garça. Protagonizado por Ralph Macchio e pelo saudoso Pat Morita, o filme mostrava um adolescente, Daniel, que mudava de cidade com sua mãe e lá tinha as tradicionais dificuldades de adaptação. Além disso, passa a ser a vítima preferida dos valentões da redondeza, apanhando diariamente de uns certos praticantes de karatê que usavam a arte marcial para o lado negro da força, até que um dia ele é salvo pelo Sr. Miyagi, um japonês sisudo que depois lhe ensina o karatê através de métodos bastante peculiares. Tudo acaba por culminar em um torneio em que Daniel-San enfrenta seus rivais das ruas.
Décadas depois, o popular e poderoso Will Smith tem a ideia de fazer um remake do clássico oitentista para servir de veículo para o seu filho, Jaden Smith. Dirigido por Harald Zwart (um diretor sem nada muito expressivo no currículo), o projeto gerou controvérsia desde o princípio por alterar a arte marcial praticada pelo protagonista: saiu o karatê, entrou o kung-fu, o que já torna o título meio estranho (não é à toa que o título foi alterado na China para “Kung-fu Kid”). Além dessa, outras alterações são marcantes. Dre Parker (o novo nome do protagonista, interpretado obviamente por Jaden) muda não apenas de cidade, mas de país, acompanhando sua mãe (Taraji P. Henson, indicada ao Oscar por “O Curioso Caso de Benjamin Button”) até a China. Ou seja, já sentimos aqui a força da globalização e da presença cultural da economia que mais cresce no mundo hoje (afinal, negócios são negócios...). Descobrimos, assim, que o bullying parece mesmo ser uma prática que transcende fronteiras, já que Dre passa a apanhar sistematicamente dos praticantes de kung-fu da sua escola. É aí que entra o Sr. Han (Jackie Chan, o astro oriental mais famoso da atualidade) para salvá-lo e ensiná-lo a se defender (substituindo o Miyagi de Morita).
Outra mudança, talvez a mais significativa delas, seja a idade do personagem central. Dre tem apenas 12 anos, ou seja, praticamente uma criança, enquanto que Daniel-San tinha lá os seus 16, 17 anos. Confesso que é bastante estranho ver crianças lutando como adultos, além das cenas explícitas de violência envolvendo as mesmas. Mais um exemplo da hipocrisia da sociedade americana, extremamente conservadora com relação a outros aspectos, mas que libera violência para todas as idades. É até esquisito, na cena em que o Sr. Han salva Dre de seus perseguidores, vê-lo lutando com rapazes que ainda estão mais para moleques... Além disso, muitos golpes e sequências se tornam até inverossímeis devido à pouca idade de seus participantes. Essa questão, inclusive, faz com que a faixa etária alvo do filme também seja mais reduzida, o que acaba se refletindo no seu aspecto mais pueril do que o original, além de caracterizações adequadas a tal público, como a do torneio final, que lembra muito games como “Street Fighter”.
Mas não se pode negar que o filme também tem seus acertos. Jaden Smith mostra que pode ter um belo futuro, não apenas por ser filho de quem é. Ele realmente se dedicou ao papel com muito empenho, como se percebe nas cenas de treinamento, e chega mesmo a surpreender em outras de cunho mais dramático. Jackie Chan também se apresenta bem, muito embora o seu Han não tenha o mesmo impacto do misterioso Miyagi de Morita. Por outro lado, ele já apresenta uma tridimensionalidade que Miyagi só iria desenvolver melhor no segundo episódio da série original. Vale ressaltar ainda que as cenas de luta foram bem coreografadas e a utilização de cenários turísticos chineses em diversas cenas é de encher os olhos. Contudo, como já vem sendo comentado por muitos na internet, o golpe da garça de Daniel possuía, deveras, uma força muito maior, pois que ele treinava o golpe ao longo de boa parte da narrativa, enquanto o golpe final de Dre, a despeito de plasticamente bonito, não oferece ao espectador a sensação de “recompensa” tão presente no original.
No fim, a sensação é aquela que acompanha 90% dos remakes, qual seja, a ausência de necessidade, mesmo que seja sob a justificativa de atualizar a obra para um novo público. É certo que o filme entretém, prende a atenção (apesar de ser um pouco longo) e está indo bem nas bilheterias, mas é desnecessário. Além disso, ver crianças trocando sopapos nunca é algo positivo, mesmo que os garotos de hoje vivam nestes embates por meio dos videogames. Entretanto, não nego: se ainda tivesse meus 12 anos (“quem me dera voltar a tê-los”), possivelmente sairia da sala de cinema empolgado... ;=)
Cotação:

Nota: 7,0
Quem foi garoto (a) nos anos 80 certamente tem em “Karatê Kid – A Hora da Verdade” uma de suas mais caras memórias cinematográficas. Eu mesmo perdi as contas de quantas vezes assisti ao longa e de quantas tentativas realizei procurando imitar o famoso golpe da garça. Protagonizado por Ralph Macchio e pelo saudoso Pat Morita, o filme mostrava um adolescente, Daniel, que mudava de cidade com sua mãe e lá tinha as tradicionais dificuldades de adaptação. Além disso, passa a ser a vítima preferida dos valentões da redondeza, apanhando diariamente de uns certos praticantes de karatê que usavam a arte marcial para o lado negro da força, até que um dia ele é salvo pelo Sr. Miyagi, um japonês sisudo que depois lhe ensina o karatê através de métodos bastante peculiares. Tudo acaba por culminar em um torneio em que Daniel-San enfrenta seus rivais das ruas.
Décadas depois, o popular e poderoso Will Smith tem a ideia de fazer um remake do clássico oitentista para servir de veículo para o seu filho, Jaden Smith. Dirigido por Harald Zwart (um diretor sem nada muito expressivo no currículo), o projeto gerou controvérsia desde o princípio por alterar a arte marcial praticada pelo protagonista: saiu o karatê, entrou o kung-fu, o que já torna o título meio estranho (não é à toa que o título foi alterado na China para “Kung-fu Kid”). Além dessa, outras alterações são marcantes. Dre Parker (o novo nome do protagonista, interpretado obviamente por Jaden) muda não apenas de cidade, mas de país, acompanhando sua mãe (Taraji P. Henson, indicada ao Oscar por “O Curioso Caso de Benjamin Button”) até a China. Ou seja, já sentimos aqui a força da globalização e da presença cultural da economia que mais cresce no mundo hoje (afinal, negócios são negócios...). Descobrimos, assim, que o bullying parece mesmo ser uma prática que transcende fronteiras, já que Dre passa a apanhar sistematicamente dos praticantes de kung-fu da sua escola. É aí que entra o Sr. Han (Jackie Chan, o astro oriental mais famoso da atualidade) para salvá-lo e ensiná-lo a se defender (substituindo o Miyagi de Morita).
Outra mudança, talvez a mais significativa delas, seja a idade do personagem central. Dre tem apenas 12 anos, ou seja, praticamente uma criança, enquanto que Daniel-San tinha lá os seus 16, 17 anos. Confesso que é bastante estranho ver crianças lutando como adultos, além das cenas explícitas de violência envolvendo as mesmas. Mais um exemplo da hipocrisia da sociedade americana, extremamente conservadora com relação a outros aspectos, mas que libera violência para todas as idades. É até esquisito, na cena em que o Sr. Han salva Dre de seus perseguidores, vê-lo lutando com rapazes que ainda estão mais para moleques... Além disso, muitos golpes e sequências se tornam até inverossímeis devido à pouca idade de seus participantes. Essa questão, inclusive, faz com que a faixa etária alvo do filme também seja mais reduzida, o que acaba se refletindo no seu aspecto mais pueril do que o original, além de caracterizações adequadas a tal público, como a do torneio final, que lembra muito games como “Street Fighter”.
Mas não se pode negar que o filme também tem seus acertos. Jaden Smith mostra que pode ter um belo futuro, não apenas por ser filho de quem é. Ele realmente se dedicou ao papel com muito empenho, como se percebe nas cenas de treinamento, e chega mesmo a surpreender em outras de cunho mais dramático. Jackie Chan também se apresenta bem, muito embora o seu Han não tenha o mesmo impacto do misterioso Miyagi de Morita. Por outro lado, ele já apresenta uma tridimensionalidade que Miyagi só iria desenvolver melhor no segundo episódio da série original. Vale ressaltar ainda que as cenas de luta foram bem coreografadas e a utilização de cenários turísticos chineses em diversas cenas é de encher os olhos. Contudo, como já vem sendo comentado por muitos na internet, o golpe da garça de Daniel possuía, deveras, uma força muito maior, pois que ele treinava o golpe ao longo de boa parte da narrativa, enquanto o golpe final de Dre, a despeito de plasticamente bonito, não oferece ao espectador a sensação de “recompensa” tão presente no original.
No fim, a sensação é aquela que acompanha 90% dos remakes, qual seja, a ausência de necessidade, mesmo que seja sob a justificativa de atualizar a obra para um novo público. É certo que o filme entretém, prende a atenção (apesar de ser um pouco longo) e está indo bem nas bilheterias, mas é desnecessário. Além disso, ver crianças trocando sopapos nunca é algo positivo, mesmo que os garotos de hoje vivam nestes embates por meio dos videogames. Entretanto, não nego: se ainda tivesse meus 12 anos (“quem me dera voltar a tê-los”), possivelmente sairia da sala de cinema empolgado... ;=)
Cotação:

Nota: 7,0